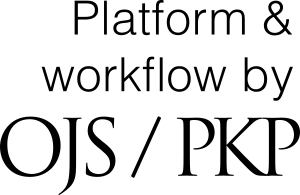ST2 DEMOCRACIA, PARTICIPAÇÃO E DIREITO À CIDADE:
UM OLHAR SOBRE O JOGO, SUAS REGRAS E AS POSSIBILIDADES DE EMANCIPAÇÃO
Resumo
DEMOCRACIA, PARTICIPAÇÃO E DIREITO À CIDADE: UM OLHAR SOBRE O JOGO, SUAS REGRAS E AS POSSIBILIDADES DE EMANCIPAÇÃO
Clarice de Assis Libânio Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo pela Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais claricelibanio@gmail.com
1 INTRODUÇÃO: O TEMA E SUAS MOTIVAÇÕES
O povo sabia que o formal não era sério. Não havia caminhos de participação, a República não era para valer. Nessa perspectiva, o bestializado era quem levasse a política a sério, era o que se prestasse à manipulação. Num sentido talvez ainda mais profundo do que a dos anarquistas, a política era tribofe. Quem apenas assistia, como fazia o povo do Rio por ocasião das grandes transformações realizadas a sua revelia, estava longe de ser bestializado. Era bilontra. (CARVALHO, 1987: 160)
Quais são os mecanismos de participação social nas decisões e destino das cidades? Como tem sido no Brasil a influência da sociedade nas decisões da coisa pública? Como a participação contribui para a efetivação do direito à cidade, emancipação e mudança do lugar do indivíduo pobre na sociedade? Essas e outras questões nortearão a presente discussão, pensando como o direito à cidade se amplia através do incremento da participação e do fortalecimento da cidadania no contexto da democracia brasileira. Adota-se a perspectiva que o direito à cidade é o direito à vida urbana, aos encontros e trocas, à festa, ao poder, à riqueza e ao uso pleno da cidade (Lefebvre, 2001). Nesse sentido, considera-se que a extensão do tecido urbano, serviços e infraestrutura a determinado território não garante, por si só, o direito dos indivíduos à cidade. Urbanizar é ampliar o pertencimento, a participação, processo que se constrói também e principalmente através da garantia do direito aos serviços, ao lazer, à cultura, à tomada de decisões, à participação política e à construção simbólica. Enfim, é um processo de construção da cidadania. A partir dessa concepção, é possível pensar diversas dimensões do acesso à cidade (Libânio, 2014), entre elas: econômica (emprego, renda, consumo); espacial (infraestrutura, mobilidade e habitabilidade); cultural (escolarização, lazer, cultura); simbólica (identidade, pertencimento); relacional (trocas, encontros, redes) e política (cidadania, participação).
Em relação à dimensão política, foco desse artigo, está ligada aos direitos de cidadania e de participação dos indivíduos nas decisões e nas formas de viver coletivamente. Assim, é necessário pensar se os moradores das grandes cidades, em especial os das classes populares, têm tido de fato condições e capacidade de influir nas decisões coletivas, de intervir no próprio destino e nas decisões que lhes afetam e a seu território. Como se discutirá adiante, é comum a incorporação do discurso da participação para validação de decisões previamente delineadas pela tecnocracia ou grupos dominantes, sem considerar os impactos e prejuízos causados à população como um todo. Assim, são registradas práticas pseudoparticipativas (Souza, 2010), entre elas a institucionalização da participação em instâncias formais, sem representatividade real, o dirigismo das decisões baseado no monopólio da informação e da técnica como ferramentas para excluir/ confundir / dominar, etc. A seguir, apresentam-se considerações sobre as regras do jogo democrático, seus espaços e formas de exercício do poder de decisão. Em seguida, discute-se como esse jogo exclui ou inclui de maneira frágil grande parte da população, reforçando as desigualdades, tendo como exemplo a situação das favelas em Belo Horizonte. Por fim, discutem-se as alternativas e propostas que vêm surgindo em prol da emancipação e autonomização do campo social, no Brasil e no mundo.
2 UM OLHAR PARA AS REGRAS DO JOGO: DEMOCRACIA E (PSEUDO)PARTICIPAÇÃO
Clamar por ‘participação’, por ‘liberdade’ etc., no contexto do modelo civilizatório capitalista, marcado por contradições de classe, por uma fundamental assimetria a separar dominantes e dominados, equivale, no essencial, das duas uma: ou a fazer demagogia política, ou a apontar, na prática, para melhorias cosméticas, sem atentar o suficiente para as barreiras existentes no bojo da sociedade instituída (SOUZA, 1995: 103).
Em linhas gerais, a literatura aponta dois principais tipos de democracia: a representativa e a direta. A primeira baseia-se no princípio da representação, onde o cidadão aliena a terceiros seu poder de decisão. Na segunda os cidadãos decidem sobre os objetivos a atingir, através de deliberação e participação direta, sendo a atividade política exercida por todos. No máximo há a delegação para um porta-voz, que, entretanto, não pode tomar decisões sem consultar as bases.
Segundo Santos (2002), as visões hegemônicas do jogo democrático, desde o pósguerra, apóiam-se em três convicções: a) a democracia é um modelo e conjunto de regras, processo para a tomada de decisões, independente de sua ideologia, ou seja, é tomada como forma e não como substância; b) a burocracia é necessária e inevitável na vida democrática, frente à emergência de formas complexas de administração e gestão do estado moderno; e c) é inevitável a representação em grandes escalas, sendo a democracia direta possível apenas em âmbito local ou restrito. As críticas à democracia representativa questionam, entre outros elementos (Souza, 2010): a) baseia-se na racionalidade instrumental e se esgota na otimização dos meios para a tomada de decisões, sancionando desigualdades e banalizando os fins, como se os mesmos fossem consensuais em sociedades tão diversas social, cultural e economicamente; b) a suposta razão “universal e imparcial” abafa a alteridade, exclui e serve à opressão; c) a desigualdade se agrava pela existência de instâncias poderosas de pré-seleção e legitimação dos representantes, incluindo a influência dos grupos econômicos e das oligarquias na política, a construção de imagens de candidatos, o desigual e nebuloso financiamento de campanhas, etc.; d) o Estado não é neutro, uma vez que serve ao interesse das classes dominantes; e e) faltam transparência e accountability ao executivo e ao legislativo, fazendo com que a representação, ao final, seja um “cheque em branco” e com grandes chances de resvalar para a corrupção, sem controle por parte dos cidadãos. A conseqüência é a despolitização da vida social, a apatia política, o esvaziamento da participação por parte do cidadão, que deixa “a política para os políticos”. No lado oposto está a democracia direta, praticada nas cidades-estado da Grécia antiga, e outras experiências, como os Sovietes russos (Souza, 2010). Sua principal característica é a tomada de decisões diretamente pelo povo, sem a presença de políticos profissionais que representam e escolhem pelos cidadãos. Apenas a escolha dos meios para atingir os fins (propostos pela maioria) é delegada a especialistas, sendo as decisões tomadas pela ecclesia, assembléia dos cidadãos, onde todos participam voluntariamente. Em casos específicos, se atribui incumbências a pessoas escolhidas para executar as decisões da ecclesia, chamados “delegados”, atribuição puramente executiva, sem alienar o poder de decisão do cidadão. Os críticos da democracia direta argumentam, entre outras questões, que os indivíduos não têm tempo, capacidade ou desejo de se ocupar dos negócios coletivos, por isso elegem representantes para essa tarefa. Tal visão traz para a esfera da política a divisão social do trabalho, além de basear-se em preconceitos que consideram os cidadãos incapazes, ignorantes e desinformados para tomar decisões de maneira racional. Ademais, consideram que a democracia direta seria inexequível em coletividades de grandes dimensões, introduzindo o problema da escala na operacionalização da tomada de decisões. Para Souza (2010), é possível trabalhar a democracia direta em grandes escalas através da adoção da descentralização territorial, decompondo-se subunidades de exercício da política; do uso do instituto da delegação, consultando as bases antes das decisões; e do emprego maciço das tecnologias de comunicação e informação, viabilizando a participação das pessoas sem que estejam presentes. Entre a democracia representativa e a direta encontra-se a chamada democracia participativa. Disseminado em vários países desde o final dos anos de 1970, tal modelo foi impulsionado pela ação dos movimentos sociais, que trouxeram novos temas para a esfera pública, novas demandas e novos atores sociais, antes excluídos da tomada de decisões. Constitui um ideal inclusivo, baseado no discurso dos direitos, que vem sendo incorporado pelos governos em experiências e práticas participativas de gestão, ainda que em esferas restritas. Para Santos (2002) o modelo hegemônico de democracia liberal representativa, globalmente triunfante, tem garantido apenas uma democracia de baixa intensidade, “baseada na privatização do bem público por elites mais ou menos restritas, na distância crescente entre representantes e representados e em uma inclusão política abstrata, feita de exclusão social” (Santos, 2002, p.32). Souza (2010) adapta uma escala de participação elaborada por Arnstein, considerando a realidade brasileira. Tal escala vai da não-participação (o Estado domina o cidadão, pela força / coerção ou pela manipulação) passando pela pseudoparticipação (o cidadão tem a sensação de fazer parte da decisão, com graus variados de informação, consulta e cooptação, sem, entretanto, ter chances reais de influência) e chegando até a participação autêntica (Estado e sociedade são parceiros ou a sociedade e suas políticas são autogestionadas). Em linha semelhante, Demo (1995) considera que há três tipos de cidadania, cada qual representando um projeto político diferente: “cidadania tutelada”, clientelista e paternalista; “cidadania assistida”, viés da assistência, não da emancipação; e “cidadania emancipada”, sem dependência material do Estado. Para ele, “participação sem auto-sustentação é farsa” (Demo, 1995, p.136). E no caso brasileiro, como tem se dado a participação e a convivência entre os diversos modelos de ação democrática? Que tipo de cidadania e de participação têm sido levadas a cabo nos últimos anos?
O tabuleiro Brasil e a democracia participativa
De acordo com os autores mencionados, é possível depreender que as próprias regras do jogo na democracia representativa muitas vezes destroem as possibilidades de participação real dos cidadãos nos governos e nas políticas públicas. Seja pela apropriação do Estado pelo poder econômico e/ou pelas elites, seja pelo esvaziamento do próprio sentido da coisa pública, vê-se muitas vezes o afastamento de indivíduos e grupos sociais das esferas de decisão e de poder coletivo. Para Daniel (1988), no Brasil o esvaziamento da participação na tomada de decisões não é recente, ao contrário, visto que os governos militares, através das restrições à liberdade de expressão e de associação, levaram à despolitização da sociedade e transformaram o próprio Estado em instância puramente administrativa. A Constituição de 1988 busca reverter o afastamento da população do fazer político e introduz, em seu artigo primeiro, o modelo que mescla representação e ação direta do cidadão, fortalecendo os movimentos sociais e ampliando os espaços de participação. Entretanto, ainda que as instâncias de participação tenham sido ampliadas, não há consenso e garantias de que a democracia participativa predomine e caminhe rumo a uma maior autonomia da população1. Nesse sentido, vê-se a descaracterização de processos participativos, cooptação, esvaziamento e desqualificação das competências das populações na tomada de decisões. Por outro lado, há uma recusa formal de partes da população em participar do jogo político e suas regras, que se traduz no absenteísmo às eleições2, no repúdio público, nos meios de comunicação, às instâncias de representação e nas práticas de mobilização coletiva via redes sociais e tomada das ruas pelos movimentos (organizados ou não). Outro processo é o escalonamento na capacidade de influenciar decisões, condicionado à estratificação socioespacial. Para Júnior (2008), a segregação espacial nas cidades (fruto da desigualdade) é fator determinante para a segregação da participação, fragilização do tecido associativo e, finalmente, para a “repartição do espaço político brasileiro entre hipercidadãos e subcidadãos” (Júnior, 2008, p.150). Apesar de crítico quanto à supervalorização dos Planos Diretores como instrumentos de mudança, considera que os mecanismos de planejamento trouxeram ganhos como a incorporação das demandas populares na agenda de discussão; a instauração de uma nova concepção de planejamento, focado na participação popular e a criação de instâncias participativas. Entretanto, na prática ainda predominam os interesses das elites e setores médios na elaboração dos Planos, com baixa participação dos setores populares, que não conseguem contemplar suas demandas nas agendas da política urbana.
3 A DUPLA INFLEXÃO NAS FAVELAS DE BELO HORIZONTE
Falar é antes de tudo deter o poder de falar. Ou, ainda, o exercício do poder assegura o domínio da palavra: só os senhores podem falar. (...) Toda tomada de poder é também uma aquisição de palavra (CLASTRES, 1990: 106)
Um olhar particular para o caso das favelas de Belo Horizonte e as políticas públicas aí implantadas permite perceber que têm oscilado entre dois pólos: de um lado, concepções e propostas que têm como foco e prioridade a retirada das famílias; de outro, projetos de melhorias das comunidades, garantida sua permanência no mesmo local. Nesse movimento pendular, até 1980 predominou a visão “remocionista”, tendo o desfavelamento como seu principal objetivo. Nesse escopo criou-se o Departamento de Bairros Populares – DBP (1955), e a Coordenadoria de Habitação de Interesse Social de Belo Horizonte – CHISBEL (1971). Ambos tratavam as ocupações como problema de polícia e tinham na remoção de famílias seu foco, liberando as áreas centrais das “invasões” e enviando para longe as populações que aí residiam. Esse foi o caso, p.ex., das favelas do Alto da Estação (Santa Tereza), Córrego do Leitão (Barro Preto), Barroca e Morro do Querosene (Cidade Jardim), do qual ainda resta pequena parte3. Na década de 1980 viu-se uma transformação na visão sobre as favelas, principalmente pela ação dos movimentos sociais. Importante nesse sentido foi a invasão da Prefeitura (1981) pelo movimento de favelados, para que as favelas fossem reconhecidas, culminando na implantação da Lei do Programa Municipal de Regularização de Favelas – PROFAVELA (1983)4 e na criação da Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte – URBEL (1986). Durante os anos de 1990 e 2000 viu-se o processo participativo se fortalecer com a Constituição Federal, o Estatuto das Cidades e os novos instrumentos de planejamento urbano. Aprofundam-se as ações em favelas, em direção a uma visão do direito à cidade e da necessidade de se trabalhar de maneira integrada as intervenções no território, casando urbanização, regularização fundiária, serviços públicos, programas de acesso a trabalho e renda e fortalecimento da organização e da participação comunitária em todo o processo. Essa visão “estrutural” teve seu marco inicial com o Programa Alvorada (PBH/URBEL/AVSI) e culminou na obrigatoriedade de elaboração dos Planos Globais Específicos - PGE antes da realização de qualquer intervenção em áreas decretadas como Zonas de Especial Interesse Social – ZEIS 1. Infelizmente, nos últimos 10 anos, a cidade tem visto o retrocesso da atenção integrada e participativa nas favelas. Da mesma forma que verificado em outras partes do Brasil e do mundo, Belo Horizonte caminha na lógica do empreendedorismo urbano, perseguindo o embelezamento da cidade e a competitividade e visibilidade internacional. No planejamento estratégico e plano de futuro da Prefeitura de Belo Horizonte - PBH, base para as diversas políticas públicas, constam seis Objetivos Estratégicos de Longo Prazo5, desafios a serem enfrentados até 2030. Entre eles, a competitividade na rede mundial de cidades está em primeiro lugar, e, ironicamente, a gestão democrática e participativa e o ambiente social saudável ocupam as duas últimas posições. Fazem parte dessa visão de cidade empreendedora projetos como a Linha Verde, que liga o centro ao aeroporto de Confins; o Programa Vila Viva, responsável pela abertura de grandes eixos viários dentro das favelas; e a Operação urbana consorciada Nova BH, recentemente divulgada e já questionada pelo Ministério Público, todos com grande impacto social e remoção de significativo número de famílias de baixa renda dos territórios centrais e mais valorizados6. Assim, pode-se afirmar que a capital mineira tem assistido a duas inflexões: primeiro, ao retrocesso da garantia de permanência dos moradores de favela em suas casas, com a ampliação das práticas de remoção de famílias (Libânio, 2013); segundo, nos espaços e mecanismos de participação, com prejuízos ao direito dos moradores de influir nas decisões que lhes afetam diretamente. De acordo com representantes do movimento popular, não há diálogo e respeito às demandas da população por parte do Poder Público. Ao contrário, a população é chamada (quando o é) para validar decisões já tomadas nas escalas técnicas ou políticas, sem consulta prévia ou consideração de suas prioridades ou sugestões. O que se vê é a incorporação do discurso da participação em todas as esferas, sem significar verdadeiramente uma emancipação dos cidadãos como sujeitos de direitos. O Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2014-2017 reafirma a supremacia da participação no planejamento da cidade, realçando que essa é (ou deveria ser) a base de todas as ações desenvolvidas pela Administração Municipal7. É importante ainda apontar que alguns mecanismos considerados como exemplos bem sucedidos de incorporação de demandas da população através da participação direta apresentaram redução de sua importância em Belo Horizonte nos últimos anos. Exemplo é o Orçamento Participativo - OP, implantado em 1993 na administração de Patrus Ananias, que vem sofrendo críticas, entre elas: a excessiva tecnicização e burocratização dos processos de escolha de prioridades, limitando, direcionando e até inviabilizando as demandas da população; a disponibilização de pequeno percentual do orçamento para as decisões via OP (em média 3% da arrecadação); a morosidade e atrasos na execução das obras; e a criação do OP Virtual, esvaziando ainda mais as esferas de participação da comunidade. Outro processo verificado foi a institucionalização da prática participativa e do controle social, sendo a interferência direta dos cidadãos fortemente direcionada para os Conselhos de políticas públicas, que hoje são 23 na cidade, além dos nove Conselhos Tutelares, um para cada Regional. Avritzer (2010) aponta problemas nas instâncias colegiadas em Belo Horizonte, principalmente: o monopólio da representação (indicação dos membros dos conselhos por entidades); a predominância de idosos e aposentados (que têm tempo para participar) nos Conselhos; a especialização da representação (pessoas que se tornam “profissionais” em serem conselheiros); a baixa intersetorialidade entre os Conselhos/políticas; as fragilidades da capacitação dos Conselheiros para exercer seu papel; e a falta de estrutura dos Conselhos para funcionamento mínimo, entre outras. No caso das intervenções em favelas, tem-se adotado um modelo consultivo, com a criação de instâncias e momentos de ouvidoria das demandas da população, sem que se traduzam em real poder de decisão dos cidadãos na condução da coisa pública. Ao contrário, são freqüentes os embates entre a Prefeitura e a sociedade civil, que tem buscado o apoio e a interferência do Ministério Público para garantir espaços mínimos de discussão e revisão de decisões tomadas unilateralmente pela administração. Mesmo nos casos em que se convocam assembléias, conferências e fóruns de políticas públicas, não há trabalho prévio de informação e instrumentalização da população para que possa se apropriar dos conteúdos e processos e exercer de forma autônoma seu direito à voz e ao voto. Ao final, são tomadas decisões sem se saber em que se está votando, conforme depoimentos dos próprios moradores participantes desses encontros. Em especial quando se trata das intervenções urbanas nas comunidades de baixa renda reafirma-se que houve retrocesso nos últimos anos nos espaços de decisão e participação dos moradores. Ao analisar as obras da Linha Verde, Lopes (2010) mostra que a comunidade não foi consultada nem quanto aos objetivos dos projetos nem quanto aos meios para atingi-los. De fato, o que se fez foi a mera apresentação de decisões já tomadas para que a população as validasse, uma “participação orientada”, direcionada para objetivos do poder público e sem espaço para que se alterem os rumos do projeto. Os movimentos populares também consideram que as ações de remoção de famílias na cidade agravam a segregação social, expulsando os pobres das áreas centrais, em benefício do mercado imobiliário. Questionam a escolha das áreas para a implantação do Programa Vila Viva, justamente as bem situadas, em áreas de alta valorização do solo, p.ex. Aglomerado da Serra, Morro das Pedras e Barragem Santa Lúcia. Destaca-se que esse não é um processo exclusivo de Belo Horizonte. Da mesma forma que o Programa Vila Viva, as UPPs no Rio de Janeiro e os “cheques-despejo” e incêndios criminosos em São Paulo indicam uma inflexão nas formas de pensar e lidar com as favelas brasileiras, que desconsidera os direitos e conquistas históricas dos moradores desses territórios (Libânio, 2013). Entretanto, ainda que as perspectivas possam parecer sombrias, também vêm surgindo novos movimentos, atores sociais e formas de insurgir-se contra o jogo da pseudoparticipação, fora das urnas e das regras da democracia participativa. A seguir, busca-se entender as possibilidades de emancipação, para além da participação formal e não efetiva que tem sido a dominante até então.
4 PARA ALÉM DOS MANUAIS: NOVOS MOVIMENTOS E PERSPECTIVAS DE EMANCIPAÇÃO
A história dos povos que tem uma história é, diz-se, a história da luta de classes. A história dos povos sem história é, dir-se-á com ao menos tanta verdade, a história de sua luta contra o Estado. (CLASTRES, 1990: 152)
Aceitação das regras do jogo ou recusa a jogar? Quais são os caminhos alternativos para novas formas de ação coletiva nas sociedades atuais? Outro mundo será mesmo possível? Para Santos (2002) a globalização neoliberal não é única. Ao contrário, vem emergindo uma globalização contra-hegemônica, que questiona e confronta a exclusão social, a precarização do trabalho, a destruição do meio ambiente e da diversidade e o declínio das políticas públicas. São movimentos e alternativas constituídos por redes e alianças transfronteiriças, lutas e organizações locais ou nacionais, em diálogo interescalar. Alguns movimentos indicam como alternativa a ação fora do Estado, fora do público entendido como governamental. Essa perspectiva encontra críticos, convencidos de que não há viabilidade numa sociedade sem Estado, em suas variadas formas ao longo da história (Clastres, 1990). Além da recusa do Estado, há variados relatos, em diferentes épocas e lugares, que mencionam a insurreição da população contra um poder centralizador, tirano, despótico ou que perdeu sua legitimidade. Para Daniel (1988), as relações conflituosas do sistema capitalista também se expressam na política, através de crises fiscais, de legitimação, ou ambas. Tais crises podem ocorrer no conjunto da sociedade ou atingir agrupamentos sociais específicos, em decorrência do grau limitado de atendimento das demandas econômicas e sociais ou da forma adotada para seu atendimento. Em geral, o resultado mais direto de uma crise de legitimação do governo é uma derrota eleitoral. Entretanto, muitas vezes os resultados das urnas não refletem os anseios da sociedade e suas transformações. Nesses momentos, onde o próprio jogo democrático formal perde sua legitimidade, desacreditado e esvaziado, surgem novas formas de se organizar, mobilizar, reivindicar e reinventar a política. Exemplos recentes em âmbito mundial são os movimentos pós 2011 que atingiram a África, a Europa, a América Latina e mesmo os Estados Unidos, críticos do capitalismo global e dos modelos democráticos existentes (Araújo, 2013). Com eles emergiram novas demandas, novos atores e novas formas de se fazer política ao redor do globo8. Em sua maioria, lutam no campo da política e dos direitos humanos e sociais, pela participação direta e pelo fim da exploração dos povos e dos recursos naturais. Adotam como práticas principais a mobilização e ação em rede; a ocupação de espaços públicos e a criação de práticas autonomistas; bem como a afirmação do “comum” contra o “privado” e o “público”. Em âmbito nacional, as “Jornadas de Junho” (2013) trouxeram para o centro da mídia e da discussão a problemática urbana, imbricada com a da participação social na tomada de decisões. Com reivindicações diversas, deixaram o recado que a população não está satisfeita com as atuais formas de condução das políticas públicas e seus resultados e, mais importante, que não pretende se ater às instâncias formais e convencionais da democracia representativa para se fazer ouvir e fazer valer seus direitos. Para Zizek (2013),
(...) o que une esses protestos é o fato de que nenhum deles pode ser reduzido a uma única questão, pois todos lidam com uma combinação específica de (pelo menos) duas questões: uma econômica (...) e outra político-ideológica, que inclui desde demandas pela democracia até exigências para a superação da democracia multipartidária usual. (Zizek, 2013, p.103/104) Em âmbito local, é possível afirmar que Belo Horizonte, nos últimos anos, também tem visto formas diferenciadas de se fazer política, através do ativismo social e cultural. Há vários movimentos que pensam e vivenciam a cultura como espaço político por excelência, ferramenta de mobilização e transformação social9. Articulados em redes e dialogando em várias escalas, com outros movimentos ao redor do mundo, reinterpretam e reconfiguram os espaços públicos e as instâncias de discussão e deliberação, em busca de uma relação mais horizontal e coletiva na cidade. Questionam as formas de envolvimento da população nas decisões e o relacionamento com a administração municipal, que muitas vezes se limita à comunicação de decisões já tomadas, como relatado no caso das favelas, sem qualquer possibilidade de interferência por parte da sociedade civil10. Ao olhar para as favelas de Belo Horizonte é possível perceber que também aí o papel da cultura é fundamental como instrumento de ação política, participação e cidadania (Libânio, 2004; 2008) substituindo formas tradicionais de mobilização e organização comunitária. Desde meados dos anos de 1990 se registrou um movimento de redução da participação em sindicatos, associações de moradores e outras organizações pelos moradores das comunidades, ao mesmo tempo em que se ampliou o envolvimento nas manifestações artísticas e movimentos culturais.
Nas periferias dos grandes centros, especialmente a juventude vem utilizando novas formas de expressão, realizando uma ação micropolítica, na busca do reconhecimento, da inserção social e conquista dos direitos da cidadania. Tais formas de expressão perpassam fortemente pelo artístico e usam as tecnologias de comunicação e informação. Nesse sentido, as manifestações artísticas assumem outro papel, também muito importante, que é a discussão dos direitos da cidadania por uma via mais lúdica, atrativa e aglutinadora, trazendo aqueles que não participariam dos movimentos coletivos tradicionais. Também contribuiu para a transformação das práticas de ação coletiva nas favelas o crescimento do número de universitários nessas áreas, gerando um novo pensamento sobre as comunidades, construídos de dentro, e não de fora delas. Dentro ou fora das favelas, tem-se buscado novas formas e caminhos de mobilização, organização e luta. Rumo à ampliação da participação, à autonomização frente ao Estado e ao aumento da capacidade de influir nas decisões de interesse público, os movimentos sociais lutam contra o jogo da pseudoparticipação e a crescente apropriação da cidade pelo capital econômico, aliado ao poder político que pensa a cidade como espetáculo e como território do mercado. Avançar nessas conquistas exige, de um lado, fortalecer a democracia participativa, reformulando as instâncias de deliberação, no sentido de uma efetiva influência nas decisões de interesse público. De outro, construir novas formas de luta e ativismo, para além das instâncias institucionalizadas, garantindo a autonomia e a não-cooptação dos movimentos coletivos. Só assim será possível garantir o direito à cidade, para todos e por todos os cidadãos.
5 (IN)CONCLUSÕES: DIREITO À CIDADE, MUDANÇA E AUTONOMIA
(...) só haverá emancipação social na medida em que houver resistência a todas as formas de poder. A hegemonia é feita de todas elas e só pode ser combatida se todas forem simultaneamente combatidas. Uma estratégia demasiadamente centrada na luta contra uma forma de poder, mas negligenciando todas as outras, pode, por mais nobres que sejam as intenções dos ativistas, contribuir para aprofundar em vez de atenuar o fardo global da opressão que os grupos sociais subalternos carregam no seu cotidiano (SANTOS, 2002: 27)
A partir do caso de Belo Horizonte, considera-se que, na prática, os moradores das grandes cidades, especialmente os de baixa renda e residentes nas periferias, não têm conseguido influir e intervir nas decisões que lhe afetam e ao espaço onde vivem. Pelo menos não pelas vias tradicionais da democracia representativa e sua versão participativa, levando ao surgimento de novas modalidades de ação política direta, ativismo e mobilização coletiva. Resta avaliar, pelo menos em tese, quais são os vínculos entre participação social e efetivação do direito à cidade. Trabalha-se com a hipótese de que o direito à cidade pode ser ampliado através do incremento da participação e fortalecimento da cidadania, contribuindo para a emancipação e mudança do lugar do indivíduo pobre na sociedade. A dimensão política do acesso à cidade pressupõe o empoderamento do indivíduo, um maior controle e condição de intervir no próprio destino. Entretanto, como mencionado, ainda que venha sendo estendida a oferta de serviços públicos ao cidadão não se tem visto a paralela ampliação da participação das classes populares nas esferas decisórias e na apropriação da experiência urbana. Não se pretende discordar que a politização do espaço social é crescente nas grandes cidades da atualidade, ainda que por vias não tradicionais. Entretanto, apesar da emergência desses movimentos, muitos formados pela elite intelectual e classes médias urbanas, ainda é prematuro apontar uma vitória na efetivação do direito à cidade no que ela tem de mais relevante: a construção simbólica, a participação na tomada de decisões e no poder. As classes populares urbanas, moradoras das periferias metropolitanas, ou das favelas das áreas centrais, não têm sido incluídas na cidade tomada como valor de uso, encontro, socialização, lazer, enfim, nos aspectos diretamente ligados à fruição, à participação, à decisão e ao controle do espaço urbano. Afastados das esferas de decisão, os indivíduos não exercem seus direitos de cidadão e, dessa forma, não têm acesso à cidade. Nessa perspectiva, a ação direta parece ser o caminho para a mudança das relações desiguais na apropriação das cidades, não apenas no Brasil. Para Gorz (2005), desloca-se a luta de classes para um novo campo, “o do controle da esfera pública, da cultura comum e dos bens coletivos”, onde os principais atores são estudantes, consumidores e “moradores decididos a reconquistar o domínio público, a novamente se apropriar do espaço urbano, a retomar o poder sobre seu meio, sua cultura comum e sua vida cotidiana” (Gorz, 2005, p.51/52). Júnior (2008) é otimista ao constatar que importante parte das lideranças que participam nos Conselhos e outras instâncias institucionais também integram os movimentos sociais, em suas diversas modalidades de luta e ativismo. Nessa perspectiva, resta uma esperança de que a participação também se construa nas cidades através da ação cotidiana dos cidadãos, para além das instâncias formalizadas e do aparato burocrático e administrativo que acaba por impedir, mais do que favorecer, a inclusão dos pobres na política urbana.
De fato, os recentes movimentos de rua ocorridos em Belo Horizonte recolocam no centro das discussões o direito à cidade, à participação e à tomada de decisões. Trazem como estratégia, entre outras, a ocupação dos espaços públicos “(...) como uma forma de anunciar que ocupando espaços públicos exerce-se o direito à cidade, que deve ser pensada como lócus de sociabilidade nos espaços públicos, mas também como espaço do exercício da política” (Araújo, sd., p.12). Finalizando com Harvey (2013), “o direito à cidade é (...) um direito de mudar a nós mesmos, mudando a cidade. Além disso, é um direito coletivo, e não individual (...)” (HARVEY, 2013:1). Ao final, espera-se que o direito à cidade signifique, de fato, a capacidade dos indivíduos e grupos sociais de incidirem nas políticas, a efetiva participação nas decisões que lhes afetam diretamente na gestão pública do território. Se o cidadão não nasce, se faz, é através do exercício da prática política que é possível realizar essa transformação rumo à emancipação social dos indivíduos. Para tanto, além das condições estruturais e legais para o exercício do jogo democrático, é necessário que os diversos atores em convivência na cidade tenham ativos, capitais de diversas ordens que lhes permitam participar e influir nesse jogo, para além dos simulacros de participação vazia e que já não mais convencem a ninguém.
REFERÊNCIAS ARAÚJO, Wânia Maria de. Movimentos Sociais: reflexões sobre o Século XX e suas conexões com as experiências do Século XXI. Disponível em www.2coninter.com.br/artigos/pdf/378.pdf, acesso em 04/11/2014. AVRITZER, Leonardo. Repensando os mecanismos participativos de Belo Horizonte: representação, capacitação e intersetorialidade. Belo Horizonte: PROEP, 2010. CARVALHO, José Murilo. Os Bestializados: o Rio de Janeiro e a república que não foi. São Paulo: Cia. Das Letras, 1987. CLASTRES, Pierre. A sociedade contra o Estado: pesquisas de antropologia política. Rio de Janeiro: Francisco Alves Editora, 1990 (5ª. Edição). DAGNINO, Evelina. Sociedade civil, participação e cidadania: de que estamos falando? In: MATO, Daniel (coord.). Políticas de ciudadania y sociedad civil en tiempos de globalización. Caracas: FACES, Universidad Central de Venezuela, pp.95-110. DANIEL, Celso. Poder local no Brasil urbano. Espaço & Debates no 24. 1988. p.26-39. DEMO, Pedro. Cidadania tutelada e cidadania assistida. São Paulo: Autores Associados, 1995. GORZ, André. O “capital imaterial”. In: ________. O Imaterial: conhecimento, valor e capital. São Paulo: Annablume, 2005. p.29-57.
HARVEY, David. O direito à cidade. Artigo publicado na Revista Piauí n. 82 de julho de 2013. Disponível em http://revistapiaui.estadao.com.br/edicao-82/tribuna-livre-da-luta-de-classes/odireito-a-cidade JUNIOR, O.A.S. ”Reforma Urbana: desafios para o planejamento como práxis transformadora”, In: COSTA, G.M. e MENDONÇA, J. Planejamento urbano no Brasil: trajetória e perspectivas. Belo Horizonte: Ed. C/Arte, 2008. p. 136-155. LIBÂNIO, Clarice. Arte, cultura e transformação nas vilas e favelas: um olhar a partir do Grupo do Beco. Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pósgraduação em Sociologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, como requisito parcial para obtenção do título de mestre em Sociologia. Orientadora: profª Ana Lúcia Modesto. Belo Horizonte: FAFICH/UFMG, 2008. ______. As múltiplas dimensões do acesso à cidade e o papel do capital cultural e das redes. In Seminário Internacional RII (13. : 2014 : Salvador, BA). Anais do 13º Seminário Internacional da Rede Iberoamericana de Investigadores Sobre Globalização e Território em Salvador no ano de 2014. - Salvador : SEI, 2014. ______. Guia Cultural das Vilas e Favelas de Belo Horizonte. Belo Horizonte: Ed. do autor, 2004. ______. O fim das favelas: notas sobre planejamento urbano, participação cidadã e remoção de famílias em Belo Horizonte. Belo Horizonte: Manuscrito, 2013. LOPES, Erika. O Projeto Linha Verde e a remoção de cinco vilas: um estudo de caso da prática do desfavelamento de novo tipo no espaço urbano de Belo Horizonte. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação do Departamento de Geografia, da Universidade Federal de Minas Gerais, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Geografia. Orientador: Professor Doutor Geraldo Magela Costa. Belo Horizonte, Departamento de Geografia da UFMG, 2010. Disponível em http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/MPBB8AWDPV/disserta__o_erika_lopes.pdf?sequence=1 acesso em 30/11/2013. PBH. Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação. PPAG. Plano Plurianual de Ação Governamental 2014-2017. Disponível em http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMe nuPortal&app=contaspublicas&tax=36659&lang=pt_BR&pg=6420&taxp=0& acesso em 15/11/2013. SANTOS, Boaventura Souza. Democratizar a democracia: os caminhos da democracia participativa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. SOUZA, Marcelo Lopes de. Mudar a cidade: uma introdução crítica ao planejamento e gestão urbanos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. ZIZEK, Slavoj. Problemas no paraíso. In MARICATO, Ermínia et al. Cidades Rebeldes: Passe livre e as manifestações que tomaram conta das ruas do Brasil. São Paulo: Boitempo / Carta Maior, 2013.